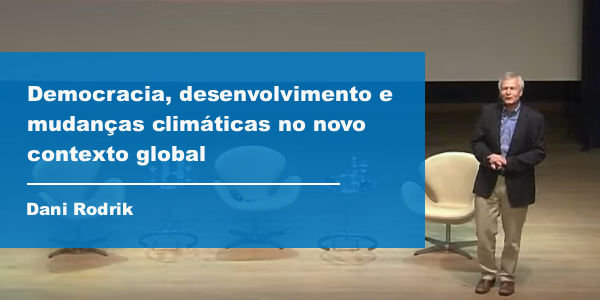Com críticas à política comercial do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, Rodrik avaliou que tarifas não vão funcionar. “Precisamos de uma política industrial atualizada e foco no setor de serviços”, afirmou.
Para o economista, o nacionalismo econômico em ascensão não é necessariamente uma ameaça, desde que as políticas sejam efetivamente adequadas às necessidades econômicas internas – o que, em sua avaliação, não está acontecendo nos Estados Unidos.
Rodrik também se mostrou pessimista com o financiamento climático e defendeu que uma maior assistência às nações pobres é essencial para uma transição energética justa e inclusiva.
As declarações foram dadas no seminário “Globalização, Desenvolvimento e Democracia”, uma iniciativa do BNDES e da Open Society para fortalecer a democracia e mapear alternativas econômicas concretas que possam diminuir as desigualdades sociais.
A seguir, os principais destaques do evento.
O choque com Trump
Na avaliação de Rodrik, três aspectos são importantes para entender o atual contexto de hiperglobalização: a morte do neoliberalismo, o crescimento do nacionalismo econômico e do autoritarismo no mundo e o “choque” que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem causado nas relações globais.
Para o professor, a estratégia de Trump tem uma “autoderrota embutida”. “Ele está prejudicando a economia norte-americana e existe uma grande probabilidade de que isso traga uma derrota para si próprio”. Nesse contexto, Rodrik sugere que a melhor abordagem para os países é, possivelmente, se manterem afastados, à margem, aguardando esse provável desfecho.
Um desafio triplo
O economista considera que existem três desafios principais em termos globais: o enfrentamento das mudanças climáticas (o desafio principal para a nossa existência física), a reconstrução da classe média (um desafio paralelo e o risco mais significativo para a nossa vida social e política) e a redução da pobreza (ou, de forma mais geral, desenvolvimento).
Ele defende a tese de que o enfraquecimento das democracias no mundo é consequência da erosão das classes médias nos Estados Unidos, na Europa e em outros países de renda média: “Se você quer uma democracia estável e coesa, precisa ter uma classe média forte e sólida”.
O estudioso propõe que pensemos estruturar políticas que tratem simultaneamente esses objetivos em vez de encará-los como desafios contraditórios.
Rodrik lembrou que, no pós-guerra, políticas de promoção de crescimento baseadas em industrialização e exportação criaram uma “classe média industrial” em diversos países no Norte e no Sul, mas sem considerar as emissões de carbono. Esse modelo foi posto em xeque por dois fatores: as mudanças climáticas e o fato de que a industrialização não funciona mais como antes, como uma grande fonte de postos de trabalho.
Nesse contexto, os três desafios demandam mudanças estruturais:
- Para a reconstrução da classe média, é preciso gerar bons empregos no setor de serviços.
- No enfrentamento das mudanças climáticas, deve-se avançar na transição para novas tecnologias verdes e renováveis. Mudar o que se produz e como se produz.
- Na redução da pobreza global, o caminho é trazer trabalhadores para setores mais produtivos. “Isso tradicionalmente significava tirar as pessoas da agricultura de subsistência para a manufatura – mais simples, inicialmente; mais sofisticada, posteriormente –, mas isso não funciona mais hoje para países em desenvolvimento, com pouquíssimas exceções. Essa migração para setores mais produtivos terá que acontecer para o segmento de serviços, também nos países em desenvolvimento e de baixa renda”, avaliou.
Para Rodrik, essas mudanças estruturais dependem de um trabalho em conjunto dos governos com a iniciativa privada. Governos precisam fomentar mudança estrutural, inovação, investimento e criação de empregos, direcionando para a estrutura desejada. Ele esclarece que, na busca por uma classe média inclusiva e por bons empregos, o foco não é mais uma política industrial tradicional, mas uma que privilegie indústrias verdes, renováveis e serviços com capacidade de absorver mão de obra. A política industrial tradicional ainda tem seu valor ao se pensar, por exemplo, em segurança nacional e inovação, mas, segundo Rodrik, não é mais a solução para a retomada da classe média.
Bidenomics
Ao avaliar a política econômica do ex-presidente dos Estados Unidos Joe Biden, o economista destacou que seu governo era muito focado em reconstruir a classe média e assumiu a mudança climática como um foco central. “Biden moveu essas iniciativas na direção certa. O porquê de isso não ter se transformado em votos ainda será discutido por muito tempo”, afirmou. Como aposta, o economista indica a desconexão entre a agenda de reconstrução da classe média e o instrumento utilizado – uma política com foco em manufatura e manufatura avançada.
Trumpnomics
Já o atual presidente, segundo Rodrik, foca apenas no desafio da classe média e na retomada da indústria manufatureira nacional – na teoria, uma das metas da sua política tarifária. O problema é que a política comercial externa, com tarifas “indiscriminadas” e “erráticas”, não é um instrumento eficaz para atingir os objetivos nessa frente. “Se o objetivo é criar bons empregos para a classe média, não se pode focar na indústria. Ainda assim, mesmo para restaurar a manufatura, a efetividade das tarifas não está clara”, observou.
Para Rodrik, três argumentos mostram por que as tarifas não são o instrumento correto:
- Elas aumentam a lucratividade apenas de parte da indústria.
- As empresas beneficiadas com lucros maiores não necessariamente investem, inovam ou treinam mais mão de obra, podendo apenas distribuir lucros a acionistas e gestores.
- As tarifas são especialmente ineficazes quando a maior parte dos empregos está nos serviços.
Ele disse não ser contra tarifas, desde que elas cumpram um papel de complementar outras políticas – industriais, sociais ou ambientais. “A maioria dos economistas odeia tarifas. Acho que elas podem ter uma função, mas apenas complementar. Se você tiver uma estratégia doméstica para proteger alguns setores, promover inovação e criar empregos, talvez as tarifas funcionem como um escudo temporário”, concluiu.
“O problema não é que as tarifas sejam um instrumento de nacionalismo econômico. É que elas não servem ao interesse econômico nacional”, defendeu.
Nacionalismo econômico
O professor sustentou que existem formas prejudiciais e benéficas de aplicar o nacionalismo econômico. Quando utilizado com cautela na busca de objetivos domésticos legítimos, como construir uma boa classe média, promover inovação, progresso e crescimento econômico, podem ser benéficas sem necessariamente prejudicar outros países. Um nacionalismo econômico que foca em criar uma economia doméstica forte e inclusiva beneficia também o resto do mundo, mesmo quando viola alguns princípios do liberalismo econômico. "Políticas genuínas para ‘empobrecer o vizinho’ até existem, mas são raras”, afirmou.
Dando o exemplo da China, Rodrik avaliou que a economia global se beneficiou muito da economia chinesa, mesmo com o seu alto grau de protecionismo. “Não gosto de falar do nacionalismo econômico como se fosse um problema. O problema de Trump não é o nacionalismo, mas o fato de que suas políticas não são suficientemente nacionalistas. Não está claro quem ele está beneficiando”, afirmou.
Para Rodrik, mesmo no enfrentamento das mudanças climáticas – que exigem uma articulação global – os principais avanços têm acontecido em países que priorizam suas próprias agendas nacionais. Como exemplo, citou as políticas industriais verdes da China e o Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia.
A contribuição desproporcional da China
Segundo dados da Agência Internacional de Energia, a contribuição da China na construção de capacidade em energia renovável foi substancialmente maior que a dos Estados Unidos, a da União Europeia e a da Índia entre 2019 e 2023. “Os subsídios foram pesados e importantes, mas políticas industriais não se resumem a isso. O governo chinês usou múltiplas políticas além dos subsídios”, pontuou Rodrik. A redução do custo de renováveis foi o maior benefício global decorrente da política chinesa.
Entre as principais características das políticas industriais verdes da China, ele mencionou:
- A construção nacional do projeto, com um novo modelo de desenvolvimento e o estabelecimento de metas amplas que delineiam os objetivos, como a substituição total de automóveis a combustão por veículos elétricos e a eliminação gradual de usinas movidas a combustíveis fósseis.
- A experimentação com programas próprios em áreas regionais. No caso de um ambiente incerto, não é possível determinar o que vai funcionar de antemão: “É preciso trabalhar com o mindset de que algumas políticas terão sucesso, e outras, não”.
- O estabelecimento de políticas múltiplas, como crédito direcionado, investimento público em P&D e infraestrutura, compras governamentais e mudanças regulatórias. Assim como a política industrial não é sobre tarifas, também não é sobre subsídios. Eles podem ter um papel importante, mas são só um dos instrumentos dessas políticas.
- A colaboração estreita do governo central com empresas e outros níveis de governo.
- A criação de mecanismos de feedback e monitoramento, com revisão de políticas e de metas iniciais.
Aprender com o fracasso
Rodrik usou o caso da empresa Solyndra, promovida durante a gestão do ex-presidente Barack Obama, para mostrar a importância de saber que políticas industriais nem sempre funcionam. Ao usar a Solyndra como uma vitrine para a promoção política da indústria verde, o fracasso da empresa virou um símbolo do fracasso do programa como um todo e não um caso isolado em um portfólio de sucesso.
As políticas industriais funcionam nas democracias?
Na avaliação de Rodrik, o sucesso desses programas tem menos a ver com o autoritarismo ou a democracia do que com a forma como esses programas são geridos.
O que precisa mudar nas políticas industriais?
Rodrik também ofereceu um mapa do que precisa ser feito, em quatro tópicos:
- Da indústria manufatureira para serviços: os empregos não estão e não estarão na indústria.
- De subsídios para serviços públicos personalizados: existe um foco excessivo em subsídios. O problema dos subsídios é parecido com aquele das tarifas – eles podem fazer a empresa ser mais lucrativa, mas não determinam se ela vai ter um incentivo maior para inovar, investir em capacitação e criar empregos de boa qualidade. “Em vez de apenas oferecerem subsídios, os governos precisam chamar as empresas para falar sobre seus obstáculos específicos na geração de mais empregos”, afirmou.
- Foco em tecnologias amigáveis ao trabalho: não está predeterminado que a tecnologia irá causar a redução de empregos. “Especialmente no caso dos serviços, é possível pensar em tecnologias – IA ou tecnologias digitais – que amplificam as habilidades de trabalhadores comuns, permitindo que ofereçam uma gama de serviços maior e mais sofisticada, os complementando e não os substituindo”, diz Rodrik. Isso, no entanto, não necessariamente ocorrerá sem direcionamento público.
Novo modelo de governança
Não se deve pensar em políticas públicas como um processo top-down, que seleciona setores pontuais para subsídios ou crédito direcionado. As agências encarregadas de pensar as políticas públicas precisam estar suficientemente inseridas no processo de produção de inovação para que entendam as necessidades dos investidores e das firmas. “Este é o contexto que irá permitir esse processo de colaboração estratégica iterativa em que as agências do setor público podem se envolver no tipo de política industrial realizado pela China para os renováveis: com metas abrangentes, descoberta e disponibilização dos inputs públicos necessários, coordenação, condicionalidades flexíveis, monitoramento e revisão de metas e experimentação local.”
Contradição entre política industrial e livre comércio
Rodrik argumenta que não há nenhum conflito inerente entre os dois, já que, em sua maior parte, as políticas industriais visam justamente solucionar os problemas do mercado e, ao melhorar a economia de seu país, contribuem para a economia global.